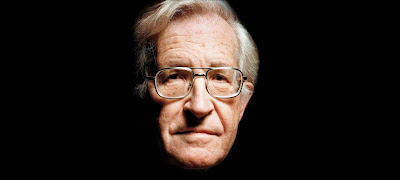Nos anos 50, Florestan Fernandes e Roger Bastide iniciaram uma série de estudos patrocinados pela UNESCO e que tinha como objetivo verificar o suposto caráter democrático das relações raciais no Brasil.[2] Estes estudos culminaram na modificação substancial da interpretação até então vigente acerca das relações raciais no contexto da sociedade brasileira. De uma sociedade tida como racialmente resolvida passamos à constatação de que os grupos raciais se posicionam diferentemente no interior da ordem social e de que a distribuição das posições sociais está ligada ao preconceito e à discriminação racial praticada contra os negros.
De acordo com Florestan Fernandes:
(...) a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar- se e de transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e capitalista.[3]
De certa forma podemos compreender a exclusão do negro do cenário social como conseqüência direta do processo de abolição da escravidão. Em outras palavras, a inserção do negro aconteceu de forma lenta com a ocupação dos setores mais subalternos na sociedade.
A economia competitiva, como o símbolo da modernização da estrutura produtiva da sociedade brasileira, desenvolveu-se como conseqüência imediata da abolição da escravidão. Em outras palavras, o negro sofreu as conseqüências diretas de um processo marcado pelas desiguais condições de acesso às novas ocupações econômicas advindas da mercantilização da economia.
Isto acarretou, antes de tudo, a inserção desigual dos vários grupos raciais na economia competitiva, ressaltada por Fernandes como processo de racionalização econômica em curso visando a constituição de um novo modelo de organização da vida econômica e social. Nesse processo, evidentemente, ainda segundo Fernandes, a integração do negro foi retardada uma vez que o processo imigratório colocado em prática pelo governo nacional priorizou a utilização de braços europeus dentro de uma concepção, então em voga, de que os imigrantes brancos representavam o advento da civilização e da modernização da sociedade nacional.
Assim, tomemos a afirmação de Fernandes:
O estrangeiro aparecia,(...), como a grande esperança nacional de progresso por saltos.(...). Desse ângulo, onde o “imigrante” aparecesse, eliminava fatalmente o pretendente “negro” ou “mulato” , pois entendia-se que ele era o agente natural do trabalho livre. [4]
Neste sentido, Florestan demonstra que o desenvolvimento da economia competitiva em São Paulo solapou as expectativas de negros e mulatos, uma vez que esses estratos raciais não estavam preparados dentro de um quadro de concorrência para enfrentar a adaptabilidade do trabalhador importado para aquelas tarefas condizentes com a nascente economia capitalista. Portanto as oportunidades econômicas não seriam igualmente desfrutadas pelos grupos raciais em função do ponto de partida assimétrico a que foram submetidos.
De acordo com este autor:
(...), o regime escravista não preparou o escravo ( e, portanto, também não preparou o liberto ) para agir plenamente como “trabalhador livre” ou como “empresário”. Ele preparou- o, onde o desenvolvimento econômico não deixou outra alternativa, para toda uma rede de ocupações e de serviços que eram essenciais mas não encontravam agentes brancos. Assim mesmo, onde estes agentes apareceram ( como aconteceu em São Paulo e no extremo sul ), em conseqüência da imigração, em plena escravidão os libertos foram gradualmente substituídos e eliminados pelo concorrente branco.[5]
Dessa forma, o negro foi empurrado para os setores mais subalternos no interior da sociedade, pois o trabalho livre não lhe propiciou as condições de inserção nos setores dinâmicos da economia competitiva. Por outro lado, os trabalhadores imigrantes tiveram a seu favor amplas possibilidades de ascensão social em função das condições sociais inerentes à economia de mercado nascente.
A estrutura social fundada no período pós-abolição não absorveu a mão de obra negra em função de que o agente do trabalho escravo não contava com as condições sociais adequadas a esta nova realidade. Ou seja, o negro saindo de um modo de vida escravista encontrou todas as dificuldades de adaptação à estrutura social em construção. O processo de inserção, por conseqüência, teria que ser doloroso e excludente.
De acordo com Hasenbalg:
(...) com a desagregação do regime escravista, segundo Fernandes, a mudança no status legal de negros e mulatos não se refletiu numa modificação substancial de sua posição social. À falta de preparo para o papel de trabalhadores livres e ao limitado volume de habilidades sociais adquiridas durante a escravidão acrescentou- se a exclusão das oportunidades sociais e econômicas resultantes da ordem social competitiva emergente. Os ex- escravos e homens livres de cor foram relegados a margem inferior do sistema produtivo, dentro de formas econômicas pré- capitalistas e áreas marginais da economia urbana.[6]
Evidentemente que Fernandes atribui ao modo como se organizou a produção tipicamente competitiva o papel de canalizador das tensões vividas pela não incorporação do negro ao mercado de trabalho. De certa forma, ainda segundo este autor, temos a sobrevivência de arcaísmos do passado no interior de uma ordem social competitiva. Em outras palavras, a discriminação racial e o preconceito contra os negros configuram reminiscências do passado que, paulatinamente, perderiam o poder classificatório numa economia de mercado.
Nesse sentido, enquanto um arcaísmo do passado, a discriminação racial e o preconceito constituem elementos fundantes de uma estratificação social segundo critérios bem definidos de cor da pele. Isto implica a percepção do racismo como parte de uma herança do passado que sobrevive na sociedade nacional. Paulatinamente, as transformações na economia competitiva provocarão o desaparecimento desses resquícios, uma vez que a mesma está fundada em critérios racionais de competitividade que não comportam arcaísmos de outras épocas.
Nesse sentido:
(...) o preconceito e a discriminação racial apareceram no Brasil como conseqüências inevitáveis do escravismo. A persistência do preconceito e discriminação após a destruição do escravismo não é ligada ao dinamismo social do período pós-abolição, mas é interpretada como um fenômeno de atraso cultural, devido ao ritmo desigual de mudança das várias dimensões dos sistemas econômico, social e cultural.[7]
Daí a ênfase de Fernandes no entendimento da ordem social competitiva, pois, à medida que esta se desenvolvesse, teríamos a superação desses mecanismos de discriminação racial. As desigualdades sociais seriam resolvidas à proporção que os negros fossem integrados à economia de mercado e as distinções sociais entre brancos e negros dessem lugar a uma situação de igualdade nas oportunidades de ocupação, renda e educação. Dessa maneira:
Fernandes argumenta que o modelo arcáico de relações raciais só desaparecerá quando a ordem social competitiva se libertar das distorções que resultaram da concentração racial de renda, privilégio e poder. Assim, uma democracia racial autêntica implica que negros e mulatos devam alcançar posições de classe equivalentes àquelas ocupadas por brancos.[8]
Desse modo a interpretação fornecida por Fernandes pressupõe a compreensão da ordem social capitalista expressão exata dos valores democráticos e da igualdade das oportunidades fundados no critério racional da competência. Como podemos perceber, este autor apresenta uma interpretação dinâmica da realidade brasileira e, portanto, considera a eliminação das barreiras raciais um acontecimento necessário ao pleno desenvolvimento da economia competitiva. Por isso:
(...) visto que o desenvolvimento econômico e a plena constituição da ordem social competitiva são considerados como os principais processos subjacentes à eliminação dos aspectos arcáicos das relações raciais , F. Fernandes é levado a uma visão cuidadosamente qualificada, porém otimista, sobre o futuro das relações raciais brasileiras.[9]
Esta teoria nos leva a explicar o racismo, no contexto da sociedade de classes, como algo que tem sua raiz no passado. Na economia competitiva sobrevivem elementos da organização social anterior os quais constituem anomalias que o desenvolvimento posterior da economia de mercado tratará de corrigir, tornando o processo de ascensão-integração do negro possível nos quadros da ordem social capitalista. Nessa perspectiva:
(...) após a abolição do escravismo, argumenta Fernandes, a sociedade herdou do antigo regime um sistema de estratificação racial e subordinação do negro. A persistência desta estratificação após a emancipação é devidamente atribuída aos efeitos do preconceito e discriminação raciais. Apesar da compreensiva e meticulosa dissecação [análise] das relações raciais brasileiras, a principal debilidade interpretativa resulta dessa conceituação do preconceito e discriminação raciais como sobrevivências do antigo regime. Essa perspectiva, relacionada à teoria de caráter assincrônico da mudança social, explica os arranjos sociais do presente como resultado de “arcaísmos” do passado. Assim, o conteúdo “tradicional” ou “arcáico” das relações raciais, revelado pela presença de preconceito e discriminação raciais, é considerado como um remanescente do passado. O modelo tradicional e assimétrico de relações raciais, perpetuado pelo preconceito e pela discriminação, é considerado uma anomalia da ordem social competitiva. Em conseqüência, o desenvolvimento ulterior da sociedade de classes levará ao desaparecimento do preconceito e discriminação raciais. A raça perderá sua eficácia como critério de seleção social e os não-brancos serão incorporados às posições “típicas” da estrutura de classes. [10]
Notadamente, Fernandes elabora uma interpretação das relações raciais brasileiras em termos da desagregação da estrutura social anterior o que implica a compreensão do contexto das relações raciais contemporâneas como o resultado imediato da conjugação de forças sociais presentes na batalha da abolição. Porém outro aspecto nitidamente perceptível é o fato deste autor associar a economia competitiva à posterior eliminação da discriminação e do preconceito racial dando vazão à compreensão de que a expansão capitalista possibilitaria a adequação das relações raciais à estrutura de classes da sociedade brasileira. (Confira um papo sobre a condição social do negro - CLICANDO AQUI)
As desigualdades raciais estariam, desse modo, condicionadas pela sobrevivência de resquícios da sociedade escravista na realidade sócio-econômica nacional. Assim Fernandes apresenta uma perspectiva otimista quanto à inserção dos negros na estrutura de classes da economia competitiva. Isto equivaleria a dizer que as relações raciais pautadas pela subordinação do negro, paulatinamente, seriam superadas enquanto se ampliasse o espectro da economia capitalista. Segundo Arruda:
(...) no quadro dessas considerações, explicitam- se concepções do autor: a noção de ordem social competitiva, ou sociedade capitalista, enquanto forma de estratificação aberta e tendencialmente democrática; a identificação do mito à ideologia, numa acepção mais restrita a esse fenômeno de natureza simbólica. Nesse sentido, Florestan trabalha com a noção de mito no sentido diverso da tradição antropológica, ou seja, enquanto universo de representações exclusivas. De outro lado, a discussão do mito da democracia racial permite- lhe ultrapassar certas visões dominantes e “representa uma recusa à visão conservadora que marca o debate não somente sobre a questão racial, mas também na Sociologia no Brasil” (Bastos, 1987: 141. Citado pela autora.). No interior desses parâmetros analíticos, o sociólogo desenvolve a segunda parte de sua reflexão, quando a ordem social competitiva expande- se no sentido capitalista no momento da Segunda Revolução Industrial, o que possibilita o reequacionamento das formas de integração do negro.[11]
Certamente o trabalho que investiga as relações raciais levado a cabo por Fernandes constata a existência do fenômeno das desigualdades de oportunidades entre brancos e negros. No entanto a preocupação investigativa deste autor o leva à percepção da solução nos termos de um reordenamento das relações sociais, econômicas e políticas no interior da economia competitiva.
Em suma, este autor demonstra o caráter desigual das relações entre brancos e negros e desmistifica a noção de democracia racial à medida que apresenta, em contraposição, elementos discriminatórios presentes no cotidiano das relações raciais no Brasil.[12] Porém associa estes desajustes sociais à existência de resquícios da escravidão ainda marcando a realidade brasileira.
Ainda, de acordo com Arruda:
(...) apesar da tendência à assimilação, o prestígio e o poder permanecem enleados aos princípios sociais dominantes herdados do passado e encarcerados pela ordem branca. A lentidão e descontinuidade do ritmo da integração apontam para os dilemas de uma história que não rompe as cadeias do passado. No âmbito da sociedade de classes, apesar do nuançamento da relação entre negro e condição social ínfima, os egressos da escravidão não se constituíram em ameaça às posições do branco e sequer entraram no universo das percepções deste.(...). Na impossibilidade de constituir- se, efetivamente, em sujeito da sua trajetória social, o negro vivencia uma realidade do preconceito contraditória, que pode ser tanto neutralizada, quanto acirrada, em função da tradição cultural da sociedade. Esta via de ligação entre o passado, o legado cultural da sociedade escravista e o presente sofre as injunções de circunstâncias e não foi gestada na dinâmica intrínseca à ordem social competitiva. [13]
Dessa forma, a interpretação oferecida por Fernandes aponta para o entendimento do presente- sociedade capitalista - como algo ainda incompleto - sobrevivência de aspectos do passado escravista - e, portanto, as práticas discriminatórias seriam como um corpo estranho no emaranhado de relações sociais capitalistas.
Notas:
[1] Utilizo a categoria Negro para designar pretos e pardos.
[2] Confira: SKIDMORE, T. Fato e Mito: Descobrindo um problema racial no Brasil. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, no. 79, nov., 1991. p.5-16.; TELLES, E. Contato Racial no Brasil Urbano: análise da segregação residencial nas quarenta maiores áreas urbanas do Brasil em 1980. In: LOVELL, P. A .(Org.). Desigualdade Racial no Brasil Contemporâneo. Belo Horizonte, CEDEPLAR/FACE-UFMG, 1991. P. 341-365.
[3]FERNANDES, F. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. vol. 1 e 2. São Paulo: Àtica, 1978. p. 20.
[4] Idem. p. 27.
[5] Idem. p.51-2.
[6] HASENBALG, Carlos. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 72.
[7] Idem. p. 73.
[8] Idem. p. 74.
[9] Idem. p. 74.
[10] Idem. p.75-6.
[11] ARRUDA, Maria Arminda do N. Dilemas do Brasil Moderno: a questão racial na obra de Florestan Fernandes. In: MAIO, Marcos C. e SANTOS, Ricardo V. (Orgs.). Raça, Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CCBB, 1996. p.198.
[12] Confira as obras de FERNANDES, F. O Negro no Mundo dos Brancos. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972.; A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Ob. cit.
[13] ARRUDA, Maria Arminda do N. Ob. cit. p. 199.